| Entrevista:
A
máscara arrancada
José Castello
No Mínimo - 21 de
agosto de 2004
 05.08.2004
| Circula na Internet uma “entrevista sensorial” com Clarice Lispector,
o que não deve ser confundido com as reportagens psicografadas dos
espíritas, ou qualquer outra peripécia mediúnica. Vinte e sete anos
depois da morte da escritora, o procedimento é bem simples: a cada
pergunta, os repórteres vão aos romances de Clarice em busca das
respostas. O mais fantástico: eles as encontram, ou acreditam que
encontram. 05.08.2004
| Circula na Internet uma “entrevista sensorial” com Clarice Lispector,
o que não deve ser confundido com as reportagens psicografadas dos
espíritas, ou qualquer outra peripécia mediúnica. Vinte e sete anos
depois da morte da escritora, o procedimento é bem simples: a cada
pergunta, os repórteres vão aos romances de Clarice em busca das
respostas. O mais fantástico: eles as encontram, ou acreditam que
encontram.
Uma confusão elementar sustenta esse procedimento, equívoco, enfim,
bastante habitual: o que leva a misturar as vozes dos narradores de
romances com as vozes de seus autores. Clarice Lispector foi, sem
dúvida, uma escritora para quem vida e obra não se desligavam. Ocorre
que essa ligação é muito mais sutil, e complicada, do que a associação
mecânica e simples entre o que dizem seus personagens e aquilo que ela
supostamente pensava.
A expressão literária é uma complexa liga de elementos contraditórios,
em que entram a memória, as imagens do inconsciente, as fantasias
pessoais e a imaginação, entre outros componentes. A literatura é, por
isso, uma máquina de enunciados dolorosos, que traz em seu bojo a mescla
aflitiva da alegria de criar com o horror de não poder dizer. Autores
que adotam essa postura radical, como foi o caso de Clarice Lispector, e
como é também o caso de João Gilberto Noll, pagam um alto preço íntimo
por sua escolha. Um desses castigos: ser tomado por quem não é. Não é
fácil - mas é o único caminho para escrever grandes livros.
Antes de inventar personagens para oferecer a seus leitores, um escritor
precisa criar um personagem para si mesmo, isto é, forjar a máscara que
usará para escrever. Precisa decidir que papel deseja desempenhar e em
que tipo de jogo quer apostar. “Eu me preparei desde menino para atuar”,
admite o gaúcho João Gilberto Noll, de quem a editora W11 está lançando
o romance “Lorde”. Nele, Noll escolhe o mais traiçoeiro dos disfarces: o
da máscara arrancada. Sob a máscara que cai, em vez de descobrir a
verdade, como em geral se supõe, ele encontra um homem que se debate em
desespero para enunciar palavras e se expressar. Encontra, em si mesmo,
o escritor.
“Lorde” narra a história de um escritor que desembarca em Londres para
uma aventura vaga, cujos contornos não domina e que ele interpreta como
uma espécie de missão. “Qualquer finalidade improvável podia me
esperar”, diz o escritor de Noll, que sabe apenas que foi convidado à
Inglaterra por causa dos sete livros que escreveu. Muitos escritores
brasileiros, entre eles o próprio Noll, costumam desembarcar na Europa,
a convite de governos e de universidades, para palestras, seminários,
leituras. O personagem de Noll não descarta essa hipótese mais
previsível, a do convite profissional; mas logo percebe que algo bem
mais desagregador o aguarda.
É que o protagonista de “Lorde”, a rigor, desembarca dos livros para
provar da existência - ou, para dizer melhor ainda, para experimentar a
inexistência. Chega a Londres, e é com imensa dor que faz essa
descoberta, para se tornar outra pessoa. O inglês que o convidou o
instala no bairro de imigrantes de Hackney. Mal se acomoda no pequeno
apartamento de subúrbio, ele passa a sentir os primeiros sinais de uma
grave dissolução interior. Sem entender os propósitos do inglês, e
enquanto espera que os fatos se aclarem, o escritor passa a vagar pela
cidade. O que parece uma busca é, na verdade, um abandono. Quanto mais
ele caminha, mais regride e se desagrega.
Para emprestar outras cores ao novo homem que passou a ser, o escritor
de Noll decide, primeiro, pintar os cabelos de castanho-claro e ainda
maquiar o rosto, na esperança de recuperar a juventude. A solução não
funciona. “A tinta escorre de minhas têmporas fazendo uma meleira
desgraçada”, relata. “Se era humilhante? Eu não sabia mais com exatidão
o teor dessa palavra.” Com o eu aos frangalhos, os fatos, mesmo as mais
repugnantes, já não podem ofendê-lo. “Tudo se fundia em minha cabeça,
feito a tintura e a maquiagem que escorriam pelo meu rosto patético.”
Entre espasmos e farrapos, ele começa a deixar de ser.
Lentamente, o escritor entende que foi acometido por uma amnésia
profunda, e que regrediu ao analfabetismo, transformando-se em um
andarilho a quem só resta rastejar pelas ruas e provar de relações
fracassadas. Torna-se uma assombração, cada vez mais tênue e disforme,
um sujeito que se evapora. Ele se vê, então, como “um ser sem estrutura
dorsal para conviver com seus iguais”. O escritor é internado num
hospital para uma cura que não pode compreender; descobre-se sitiado
entre tropas do exército que combatem terroristas invisíveis;
experimenta vagas experiências sexuais, que sempre o frustram. No estado
de evaporação em que vive, ainda assim, só o impulso sexual consegue
produzir alguns sinais vitais.
O novo romance de Noll é, ao mesmo tempo, a história de um escritor que
deseja se livrar de sua máscara literária e o retrato contundente dos
escritores contemporâneos, com sua imagem cada vez mais agigantada e, ao
mesmo tempo, esmaecida, de sujeitos prensados entre a busca do sucesso
(dinheiro) e a busca do prestígio (glória). Todo escritor aspira
secretamente ao papel de lorde, mas o escritor-personagem de Noll,
ultrapassando o próprio desejo, consegue livrar-se dessas falsas
esperanças. Do outro lado da miragem, no miolo da máscara, contudo, o
que ele encontra é só um grande vazio.
Ainda que se ocupe dos aspectos teatrais da vida, a literatura de Noll
não se reduz a uma encenação, ou a um brilhante jogo intelectual. Ela é,
muito mais, expressão ou, como ele mesmo diz, o “drama da expressão”,
que no homem de hoje envolve aspectos radicais e intenso desespero.
Transformada numa evocação dramática do humano, a literatura de Noll se
torna, assim, uma celebração, ainda que cruel, da existência.
Em Lorde, João Gilberto Noll, mais uma vez, se joga de corpo inteiro na
escrita, lidando inclusive (e aqui está a armadilha) com aspectos e
fragmentos de sua vida pessoal. Só que esse ponto de partida
psicológico, em vez de servir como fundamento para um retrato, vem
estilhaçar qualquer possibilidade de imagem. O título, “Lorde”, já é, em
si, uma ironia, pois Noll é um sujeito desencantado com os rótulos
honoríficos e a ostentação intelectual. É dos resquícios dessa máscara
de escritor, que mais parece uma máscara mortuária, que ele quer se
livrar.
Lançando-se para fora da identidade de escritor, procurando
desesperadamente pelo que, em seu interior, resta do homem, é nesse
movimento que Noll, no entanto, se põe a escrever. Mas, ao contrário de
seu personagem, que termina incorporando, e depois sendo destruído, pelo
sujeito que o convidou, e assim não chega a escrever uma só linha, Noll,
o escritor, e não seu personagem, faz da queda o motivo por excelência
de sua escrita.
Na conversa que se segue, João Gilberto Noll procura clarear alguns dos
sentimentos que o levam a escrever livros como “Lorde”, cuja leitura
provoca uma mistura, nada cômoda, de prazer e desassossego. E se mostra
bastante cético diante da imagem contemporânea do escritor, a de um
sujeito frívolo, interessado ou em enriquecer com a literatura, ou em se
engrandecer com ela, figurando, quem sabe, na lista dos notáveis da,
como ele diz, “nova novelística”. Sem nenhuma curiosidade pelas duas
atitudes, Noll faz da literatura algo que ultrapassa tanto a profissão e
o sucesso, quanto o refinamento e a consagração. Algo que, mesmo sendo
mentira da primeira à última linha, se agarra desesperadamente à vida.
Clarice Lispector dizia: “Eu escrevo para não morrer.” É com a mesma
aflição extrema que Noll lida com as palavras, e não apenas em suas
ficções, como se pode observar na entrevista que se segue.
Seu escritor está retido na malha da literatura. Ampla malha, que
oferece muitas vantagens (bolsas, convites de viagens, simpósios,
prêmios), mas que também asfixia. Você é um escritor que gosta de falar
em público e que, aliás, fala, e também lê seus textos, muito bem. Como
se relaciona com essa teia da carreira literária? Em que medida ela se
tornou inseparável da literatura?
Não tenho a menor dúvida de que isso que você chama de teia e que
estaria fora dos livros é da índole da pura expressão literária. Quando
falo diante de uma audiência, ou ao ler trechos de meus livros para ela,
estou exercendo o papel da ficção, porque o que tenho para dizer ou ler
não é um assunto localizável em discussões estritamente sociais. O que
faço nesse caso é um pouco levantar o tapete para apontar o que calamos,
muitas vezes sob o medo da pecha da demência e outras inutilidades para
a vida cotidiana.
Seu escritor quer se transformar. Primeiro, usa o recurso da maquiagem,
da tintura de cabelo etc. Faz para si uma máscara, como no teatro.
Quando você lê seus textos em público, há um forte sentido de
interpretação – como o do ator no palco. Nessas horas, me parece, você
atua como um ator. Para escrever, um escritor precisa antes se definir
enquanto personagem?
Eu me preparei desde menino para atuar. Cantando em festividades ou
declamando. A escrita é apenas uma decorrência disso. A escrita é eu
poder elaborar, fabular, diante de outros olhos, a apresentação de um
personagem ideal que carece de ser apresentado, tal a sua evocação
dramática do humano, que todos querem esquecer. Por que esquecer? Porque
esse fulano perturba o desempenho de nossa funcionalidade, entende?
Talvez ele relembre a infância precocemente abortada pelas granadas da
realidade.
”Lorde”, certamente, vem de experiências concretas que você teve na
Inglaterra – ou não? Se isso é verdade, gostaria que você as relatasse.
A fronteira vida/ficção em suas mãos fica ainda mais sutil do que ela já
é. Como fica o sentimento de exposição pessoal? E em que medida seus
leitores o confundem com seus personagens – como fazem muitas pessoas
que acompanham as telenovelas?
É preciso muita, mas muita telenovela no lombo para confundir
literalmente o que é contado em “Lorde” pelo narrador e o que eu vivi de
fato na minha temporada em Londres, acho eu. Talvez no início do livro
exista algum desnudamento psicologista. Mas, à medida que o romance se
desenrola, o cidadão João vai se distanciando do protagonista, não
naquilo que rege suas mentes, porque isso pode vir até da mesma matriz -
que pode ser chamada de uma única e mesma inadequação humana -, mas no
que diz respeito à factualidade ficcional. Eu escrevi este livro que não
foi escrito pelo personagem de Lorde, simplesmente porque ele não
escreve uma linha sequer na Inglaterra. Nem de fato participa de
palestras. Eu, João, escrevi lá uma história, participei de palestras, e
não fui incorporado, como no romance, por outro cidadão. Estou aqui, de
volta. Está certo, concedo: voltei numa crise psicológica braba, num
estado como jamais saí da escrita de um livro. Mas aos poucos me
reconciliei com o mundo exterior, que remédio? Pirar?
Seu romance tem ainda um elemento muito contemporâneo, que é o
sentimento de perseguição. Bem, há até um movimento de soldados que
supostamente estão ali para enfrentar uma indefinida ameaça do terror.
Isso tudo exacerba uma atmosfera de grande suspense. Em que medida o
sentimento de perseguição é uma peça chave em sua literatura?
O sentimento de perseguição, a paranóia, é a alma dos meus livros. Meu
segundo livro e primeiro romance, “A fúria do corpo”, começa com a
frase: “O meu nome não.” Ou seja, não darei pistas ao leitor. Assim,
quanto mais vaga, mais indeterminada for a atmosfera dos meus enredos,
se é que eles existem, menos chances de eu ser encarcerado pelo olhar do
outro sempre aprisionado em gêneros, espécies ficcionais, horizontes
estéticos. Por isso não posso dar soluções de cunho policial à tensão
que norteia cada livro, porque isso seria trair uma verossimilhança que
eu defendo caninamente: à da vida, sim, senhor, essa que exprime o
congestionamento do nosso cotidiano de situações não resolvidas, gestos
flutuantes, dúvidas atrozes, esboços que não se completam...
Percebo, nas frestas de “Lorde”, a sombra de Franz Kafka. O convidado
que chega sem saber para que, como o agrimensor de “O Castelo”. A
transformação monstruosa e incontrolável, como em “A Metamorfose”. O ser
arrastado por engrenagens que se desconhece, como em “O Processo”. Você
trabalhou com essa relação, ou ela veio só ao acaso?
Ah, ela veio ao acaso. Mas como desconhecer o suposto universo kafkiano,
já que estamos falando de um dos fundadores da nossa modernidade? Em que
pé estão ainda hoje as coisas para que não vivamos continuamente esse
clima de instituições surdas ao nosso clamor, mas ao mesmo tempo
dependentes dele?
Depois de uma desagregação poética extrema, que levou a “Mínimos,
múltiplos, comuns”, você retorna à narrativa mais clássica, se é que
podemos dizer isso. Foi preciso se desagregar para se re-agregar? O que
se passou nesse período de desagregação, que inclui também, ou se
inicia, em “Canoas e marolas”?
Os “Mínimos” foram escritos duas vezes por semana para serem publicados
na “Folha de S. Paulo”. A fragmentação vertical que os marca é inerente
ao seu próprio modo de produção - o de fazê-los em prestações que
duraram três anos e meio. Os infra-sentimentos que os governam exigem
uma formulação decididamente imprecisa, digamos, e esta é a sua ousadia
específica.
Num cenário literário dominado pelo novo realismo, como você se sente,
praticando uma literatura que beira a experiência delirante? O que é a
realidade para você?
A realidade para mim é a dilatação mental suprema, quase uma deformidade
ideal.
Voltando a “Lorde”, o livro faz do escritor, um personagem. Às vezes
parece que a melhor literatura de hoje já não consegue tratar mais de
temas “externos”, só consegue voltar-se para dentro. É certamente um
impasse - mas está em outros ótimos romances que acabam de ser lançados
no Brasil, como “A noite do oráculo”, de Paul Auster, e “A viagem
vertical”, de Enrique Vila-Matas. Isso se resolve? Para onde vai a
literatura?
Não cabe a mim, enquanto produtor da escrita, saber se isso se resolve
ou a que direção isso levará. A minha possível contribuição se dá na
própria ficção, na feitura quase desesperada de novas tramas e
linguagens. É só assim que consigo responder a essas questões, não
conceituando como teórico. É também o drama da expressão que tento levar
ao público quando falo a ele e não soluções e direções da nova
novelística.
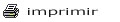 |